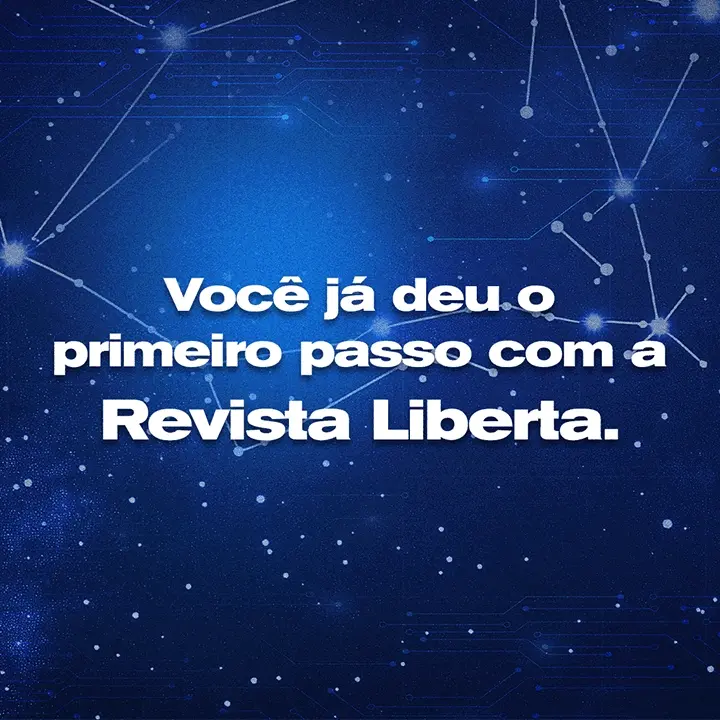Por Luciana Bauer e Gisele Agnelli *
Quando a maior historiadora viva dos Estados Unidos, Jill Lepore, publicou The American Beast (A Besta Americana, 2023), uma coletânea de ensaios originalmente veiculados na revista The New Yorker, o livro não surgiu como uma intervenção circunstancial, mas como a sedimentação de décadas de pesquisa sobre violência política, mitologia, idealismo democrático e elites iliberais nos Estados Unidos.
Logo na abertura, Lepore convoca uma frase de Malcolm X que atravessa o século XX e chega intacta ao XXI: “This is the year of the ballot or the bullet” (“Este é o ano do voto ou da bala”). Não se trata de retórica inflamada, mas de um diagnóstico histórico: quando a promessa democrática se esgota, a violência deixa de ser exceção e se torna método.
O núcleo da tese de Lepore é desconfortável porque desmonta um dos mitos fundadores da ordem liberal internacional: os Estados Unidos não são o “berço da democracia do mundo”.
Desde a sua origem, o país foi estruturado por elites liberais, que naturalizaram a escravidão, a expropriação territorial, o expansionismo militar e a violência racial como instrumentos legítimos de poder. A democracia estadunidense não nasce como antídoto à barbárie, mas como um arranjo seletivo de inclusão e exclusão, cuidadosamente protegido por instituições que sempre toleraram – quando não incentivaram – a violência estrutural.
Esse passado retorna com força no projeto MAGA e em sua cristalização política durante o primeiro mandato de Donald Trump. Lepore demonstra que Trump não é uma anomalia, mas a atualização de uma longa tradição: a da política americana como administração da força, interna e externamente, em nome de uma ordem supostamente civilizatória, mas funcional aos interesses de sua elite.
Canibalismo político
É impossível acordar em 2026 sem ser tomado pelo choque geopolítico e pelo colapso das estruturas do direito e da chamada “ordem internacional baseada em regras”, que a prisão ilegítima e imoral de Nicolás Maduro provoca.
Nesse momento, a metáfora da “besta americana” deixa de ser apenas analítica e se torna quase literal. O país que, por décadas, se apresentou como guardião do Estado de Direito internacional passa a agir, sem disfarces, como potência predatória. O verniz iluminista se dissolve, revelando o canibalismo político de um império em declínio.
Não se trata apenas do financismo global e de suas bolhas especulativas, que corroem economias produtivas; nem apenas das guerras eternas e híbridas – das quais a Lava Jato foi um exemplo paradigmático de instrumentalização jurídica. Tampouco se trata apenas do apoio incondicional ao genocídio em Gaza.
O que emerge é uma lógica mais crua: diante da perda de hegemonia para a China, os Estados Unidos passam a operar como uma fera acuada, disposta a violar normas, tratados e direitos em nome de sua sobrevivência estratégica frente ao rival chinês.

Para Elbridge Colby, principal teórico da política de Trump na guerra contra a China, a contenção no Indo-Pacífico só é viável se os Estados Unidos preservarem o controle estratégico do Hemisfério Ocidental – em outras palavras, da América Latina. Neste sentido, o Brasil, a Venezuela e a região como um todo não constituem um teatro secundário, mas a retaguarda geopolítica vital da disputa central do século XXI. O raciocínio é clássico e realista: nenhuma grande potência sustenta uma guerra principal se perde sua retaguarda.
Assim, na lógica colbyana, nenhuma potência rival deve adquirir capacidades militares, tecnológicas ou logísticas decisivas no hemisfério, e a região deve permanecer estrategicamente neutra ou alinhada a Washington, ainda que politicamente plural.
O critério não é ideológico, mas funcional: quem controla o entorno imediato controla a capacidade de projeção global. Essa visão rompe deliberadamente com a tradição liberal-intervencionista de verniz democrático, que marcou as décadas de 1990 e 2000.
Para Colby, democracia, direitos humanos ou governança climática não são eixos centrais da política externa; o foco é a contenção estratégica da presença chinesa em áreas sensíveis – portos, telecomunicações, satélites, energia e minerais críticos. Isso implica tolerância pragmática a governos iliberais, desde que não operem como plataformas de projeção chinesa, e a substituição da diplomacia normativa por incentivos materiais e poder duro.
Nesse quadro, o Brasil surge como peça-chave: não como parceiro ambiental ou climático prioritário, mas como potência regional a ser “ancorada”, cuja autonomia diplomática é aceita apenas enquanto não se traduza em alinhamento militar ou tecnológico profundo com Pequim.
A América Latina deixa, assim, de ser espaço de cooperação normativa e passa a ser tratada como zona de contenção ou negação estratégica, onde o objetivo central não é governar, mas impedir que o outro se estabeleça.
A geopolítica das matérias-primas revela com nitidez essa mutação. A vitória do ultraconservador José Antonio Kast no Chile alinhou aos Estados Unidos os três países do chamado Triângulo do Lítio – Argentina, Bolívia e Chile –, responsáveis por cerca de metade das reservas globais do mineral. Em paralelo, as terras raras tornaram-se moeda explícita de negociação nas tratativas tarifárias com o presidente Lula.
Quanto ao petróleo pesado, indispensável às refinarias e plantas petroquímicas dos EUA (historicamente desenhadas para processar esse tipo de óleo mais denso e barato), a oferta em escala relevante é assegurada, sobretudo, por Venezuela, Irã e Rússia.
Incapazes de substituir rapidamente essa dependência estrutural, os Estados Unidos transformam sua vulnerabilidade energética em narrativa de conflito: alegam que empresas americanas teriam sido “violadas” ou “expropriadas” para legitimar sanções, bloqueios e pressões diplomáticas que, na prática, configuram guerra econômica.
Trata-se menos de defesa da legalidade e mais de gestão coercitiva da dependência, em que o direito internacional é mobilizado seletivamente para garantir acesso a insumos estratégicos e preservar a centralidade geopolítica dos EUA. O discurso sobre drogas e narcoterrorismo funciona apenas como expediente retórico para evitar a necessidade de autorização explícita do Congresso.
Tecnofeudalistas
É nesse ponto que o diagnóstico externo ganha profundidade ao ser confrontado com America Against America, de Wang Huning. Escrito nos anos 1990, após longa observação da sociedade americana, o livro descreve um país corroído por contradições internas: individualismo extremo, fragmentação social, violência cotidiana, fetichização do mercado e esvaziamento do sentido coletivo.
Para Wang, o maior inimigo dos Estados Unidos não está fora, mas dentro de sua própria estrutura social e cultural. A elite canibaliza não apenas atores externos, mas – especialmente na era Trump – a própria classe média, hoje praticamente extinta entre dívidas impagáveis, inflação persistente e um mercado de trabalho marcado pela financeirização.
O relatório State of ALICE in Florida: 2025 confirma esse colapso social. Em 2023, 13% dos domicílios viviam abaixo da linha oficial de pobreza, enquanto outros 34% eram classificados como “ALICE” – famílias com renda acima da pobreza formal, mas insuficiente para cobrir necessidades básicas como moradia, alimentação, transporte e saúde.
Somadas, essas categorias revelam que 47% das famílias não conseguem sobreviver com dignidade, colocando a Flórida na 48ª posição entre os estados americanos em termos de dificuldade financeira. Trata-se de trabalhadores essenciais – cuidadores, atendentes, caixas, motoristas – aprisionados em um fosso estrutural entre salários estagnados e custo de vida crescente.
O estudo mostra ainda que o custo mínimo anual para sobreviver (cerca de US$ 33.800 para um adulto sozinho e quase US$ 86.700 para uma família de quatro pessoas) supera amplamente as linhas oficiais de pobreza, afetando de modo mais severo famílias com filhos, idosos, mulheres chefes de família e grupos racializados. Esse cenário é agravado por um salário mínimo federal que, desde os anos 1990, permanece virtualmente estagnado em torno de US$ 7 por hora.

Toda a riqueza produzida foi progressivamente transferida à velha elite industrial e à nova elite do Vale do Silício. Esses novos tecnocratas – frequentemente descritos como tecnofeudalistas – acumulam fortunas bilionárias sem produzir riqueza social proporcional, sustentados por rendas financeiras, dados e monopólios digitais.
O próprio Vale do Silício alimenta, hoje, a nova bolha da inteligência artificial. Para Richard D. Wolff, a dinâmica da chamada revolução da IA não representa mera inovação tecnológica, mas a continuidade de uma lógica capitalista baseada em bolhas especulativas orientadas por lucros concentrados, e não por necessidades sociais reais.
Em sua análise, a bolha da IA pode estourar com efeitos ainda mais severos do que crises anteriores, pois a tecnologia está sendo integrada a um sistema que já produz desemprego em massa, desigualdade crescente e precarização do trabalho.
Em episódios do The Socialist Program, Wolff destaca como o excesso de investimento especulativo, combinado à busca por retornos financeiros extraordinários, intensifica a instabilidade dos mercados e aprofunda a crise cíclica do capitalismo tardio. O problema não é a tecnologia em si, mas a forma como o capital a incorpora sem qualquer regulação social.
No plano político interno, essa crise econômica se articula à instrumentalização das eleições por elites econômicas e políticas que exploram o descontentamento popular. Estratégias como o gerrymandering – a manipulação de distritos eleitorais para garantir vitórias republicanas –, a polarização extrema e o uso massivo de recursos comunicacionais e financeiros moldam resultados eleitorais em favor de interesses oligárquicos.
A ascensão de figuras como Donald Trump não é, portanto, uma aberração isolada, mas o produto de tensões estruturais profundas do capitalismo dos EUA, em que a estagnação salarial, a erosão da classe média e a concentração de riqueza alimentam frustrações canalizadas por lideranças autoritárias, que prometem soluções simples e atacam instituições democráticas para consolidar poder.
O que hoje se vê é um império decadente e violento, que se debate e se revela na convergência entre esses dois diagnósticos – o interno e o externo. A América se volta contra si mesma e, nesse movimento, projeta sua crise para o mundo.
A “besta americana” de Jill Lepore encontra, em “America Against America”, seu espelho final: um império que já não consegue sustentar a ficção moral de sua liderança e que, por isso mesmo, se torna mais perigoso, mais canibal – especialmente em relação à América Latina e ao seu principal ator regional, o Brasil e sua eleição presidencial de 2026.
* Luciana Bauer é jurista, ex-juíza federal e especializada em direito climático e justiça intergeracional, fundadora do Jusclima e do Agnelli & Bauer Strategies e autora de A Norma Climática e a Democracia Indiferente. Gisele Agnelli é socióloga e analista política, fundadora do Agnelli & Bauer Strategies e autora de Autocracia Made in USA.