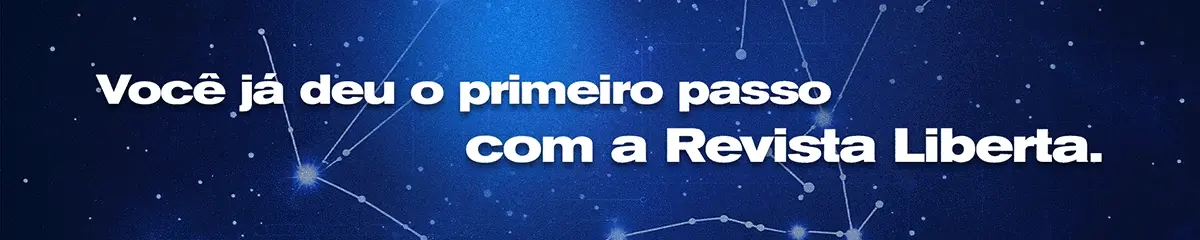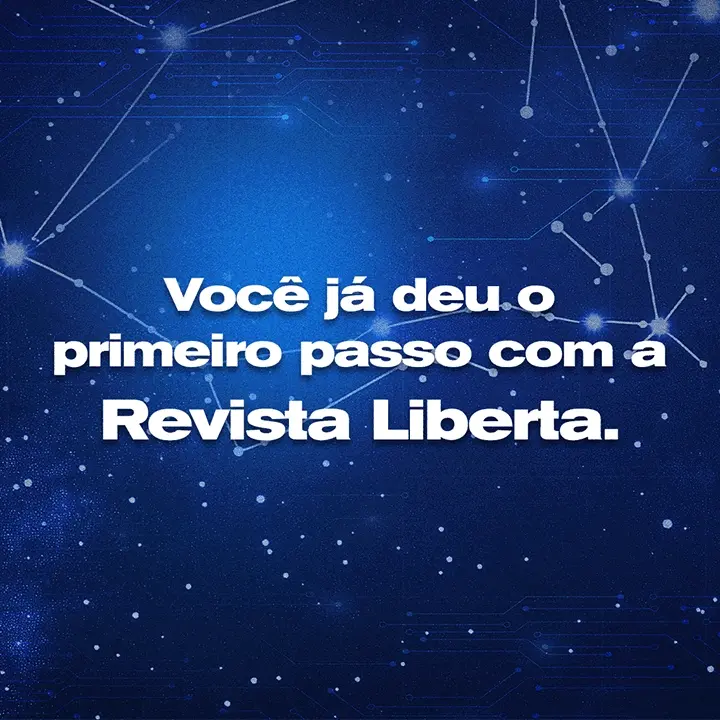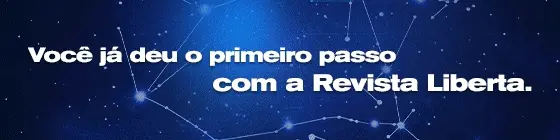Com então quase uma década de carreira, a carioca Maria Ceiça parecia ter atingido o auge da popularidade em 1997, quando sua personagem na novela das nove, Por Amor, a artista plástica Márcia, começou a sobrepor-se às estrelas da trama, como Helena (Regina Duarte), que, em segredo, troca seu recém-nascido saudável pelo bebê natimorto da filha Maria Eduarda (Gabriela Duarte) – atrizes que são mãe e filha também na vida real.
No dramalhão de Manoel Carlos, ao engravidar, Márcia passa a ser tratada com violência pelo marido (o ator Paulo César Grande), que temia ser pai de uma criança negra. O sucesso de Maria Ceiça, no entanto, causou efeito reverso: quanto mais a audiência falava de Márcia, menor sua presença no roteiro.
“Fiquei deprimida. Achava que a culpa era minha, que não estava fazendo bem o papel”, lembra Maria Ceiça. A impressão se desfez somente quando ela encontrou o autor do folhetim. “Assim que me viu, Manoel Carlos disse: ‘Tive de reduzir sua participação porque você estava chamando muito a atenção’”. Ao final de Por Amor, o drama de Márcia era insignificante. Maria Ceiça, por sua vez, fez apenas mais uma novela das nove, até migrar para o horário nobre da concorrente Record – recentemente, ela voltou a atuar na Globo.
Pressão das redes
Quase trinta anos depois, Taís Araujo viveu algo semelhante em Vale Tudo, no mesmo canal. Uma das personagens principais, a atriz se tornou a “garota do merchan”, além de ter sua participação reduzida e a história de sua Raquel, alterada. Dirigido por Manuela Dias, o remake se propunha disruptivo, com duas mulheres negras (Taís e Bella Campos) nos papéis que foram de Regina Duarte e Glória Pires, respectivamente.
Na época de Maria Ceiça, não existia “reclamar ao compliance”, como o fez Taís Araujo, após externar sua insatisfação publicamente. Já a estrutura de apagamento do trabalho de pessoas negras segue intacta. “A diferença é que, hoje, temos a pressão das redes”, diz Maria Ceiça.
Ela nunca havia falado publicamente sobre o tema até o último domingo (16/10). O desabafo ocorreu no lançamento da nova versão do livro Teatro Experimental do Negro – Testemunhos e ressonâncias (Sesc Edições), organizado por Abdias Nascimento, Elisa Larkin Nascimento e Jessé Oliveira, no FlinkSampa – Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra), no Sesc Pompeia, em São Paulo.

Ao lado de Elisa Larkin, presidente do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro), Ceiça comparou o episódio ao mesmo processo que fez com que ela descobrisse, tardiamente, a existência do Teatro Experimental do Negro (TEN). “Nunca ouvi falar do grupo nas aulas da Escola de Teatro Martins Pena. Conheci o TEN graças a Ruth de Souza e Léa Garcia”, diz Ceiça.
Ruth e Léa são as integrantes mais famosas da companhia carioca, criada em 1944, por Abdias Nascimento. Quando estreou no Theatro Municipal do Rio com a peça O imperador Jones, de Eugene O’Neill, em 1945, o TEN inaugurou o teatro moderno brasileiro ao subverter o papel caricatural de pessoas negras no palco, num projeto antirracista com uma agenda política, social e estética.
Ao lado de outras mentes brilhantes, como o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, Abdias propôs uma revolução por meio da cultura, da educação e da militância, promovendo inovações estéticas, formando protagonistas e influenciando projetos como o Teatro do Oprimido, de Augusto Boal.
Em 1966, quando lançou a primeira versão do livro, reunindo críticas, ensaios e testemunhos sobre o TEN (que compõem a primeira parte da nova edição), Abdias o fez pois sabia que a trajetória da companhia precisava ser preservada. “Uma das mais importantes críticas do país, Barbara Heliodora escreveu um livro sobre a história do teatro carioca onde há um parágrafo de oito linhas dedicado ao TEN”, diz Elisa Larkin. Atualmente fora de catálogo, em A História do Teatro no Rio de Janeiro, Heliodora trata da cena artística local desde os anos 1930.
Políticas afirmativas
Apagamento, extinção, destruição são centrais nas estratégias de opressão e controle da diáspora africana em todas as instâncias de sua existência. Na criação cultural, de bambas do passado a funkeiros do presente, desde o século XIX, tenta-se criminalizar músicos com penalizações como a Lei da Vadiagem (1890), que determinava a prisão arbitrária de pretos e pobres, incluindo sambistas e capoeiristas.
Se na música foi impossível se livrar da supremacia negra – ainda que muitas e muitos sigam desconhecidos –, em outras linguagens, esse plano foi exitoso. Na incapacidade de negar o gênio de Machado de Assis, negaram-se suas origens africanas. De Maria Firmina dos Reis, autora do primeiro romance publicado por uma mulher no Brasil, mal ouvimos falar. Não bastassem o gênero e a cor da autora, Úrsula (1859) ainda traz críticas à escravidão.
Até 2006, quando Ana Maria Gonçalves lançou Um Defeito de Cor (Ed. Record), apenas outras oito negras haviam publicado romances desde Maria Firmina. Como reflexo, mesmo sendo uma obra monumental, o livro de Ana Maria passou batido pela crítica nacional. O único prêmio que Um Defeito de Cor recebeu foi o cubano Casa de Las Américas. Por isso, sua eleição para a Academia Brasileira de Letras tem um gostinho especial: raras vezes, se viu uma imortal tão celebrada.
Histórias como essas são a regra, num universo de exceções que se multiplicaram nos últimos anos, como resultado das políticas afirmativas. Se ainda representam a minoria nos espaços de decisão que fabulam tais políticas de apagamento, a população negra se faz ouvir para além dos departamentos de compliance.